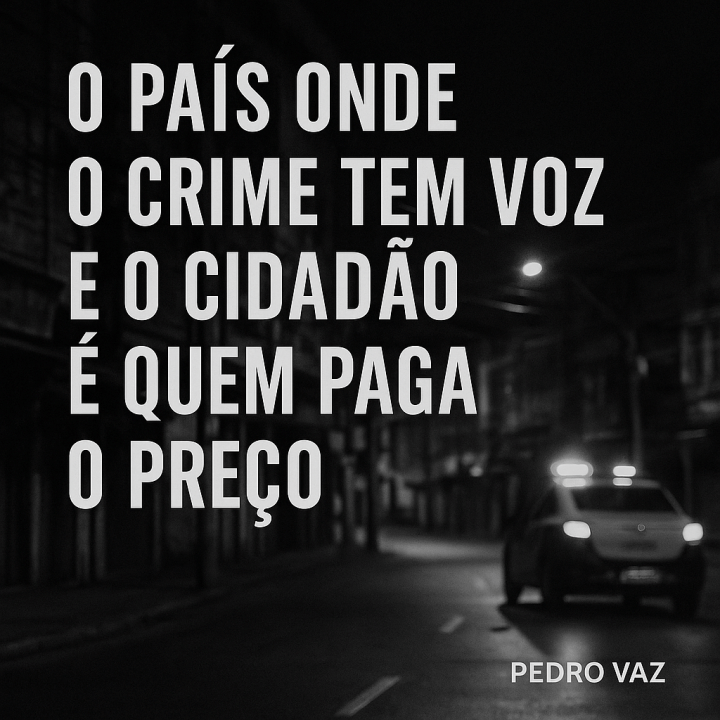Há textos que incomodam não pelo tema, mas pela forma. O artigo recente de reinaldo azevedo é um desses casos.
O problema central não está, necessariamente, nas conclusões a que o reporter chega. É possível, sim, que parte do diagnóstico esteja correto. O que causa estranhamento — e rejeição — é o método. A retórica adotada, marcada pelo deboche e por uma suposta classificação “técnica” de fatos e argumentos por meio de siglas, não fortalece a tese. Ao contrário: denuncia sua fragilidade.
Transformar o debate público em uma sequência de rótulos é um recurso antigo. Serve menos para esclarecer e mais para enquadrar, reduzir e deslegitimar o pensamento divergente. Não se trata de análise rigorosa, mas de uma imposição de visão, travestida de didatismo.
Há ainda um equívoco mais profundo: a crença de que o escárnio é instrumento legítimo do convencimento.
Não é.
O sarcasmo pode render aplausos fáceis de quem já concorda, mas empobrece o debate, fecha portas e afasta qualquer possibilidade real de diálogo. Além disso, envelhece mal. O que hoje parece ironia afiada, amanhã soa apenas cafona.
Os fins — ainda que considerados nobres pelo autor — não justificam os meios. Quando o argumento depende do deboche para se sustentar, o problema não está apenas no interlocutor criticado. Está, sobretudo, na segurança de quem escreve.
O debate público brasileiro já sofre demais com gritos, caricaturas e certezas absolutas. Não precisamos de mais textos que trocam reflexão por escárnio. Precisamos de menos arrogância retórica e mais responsabilidade intelectual.
Leia