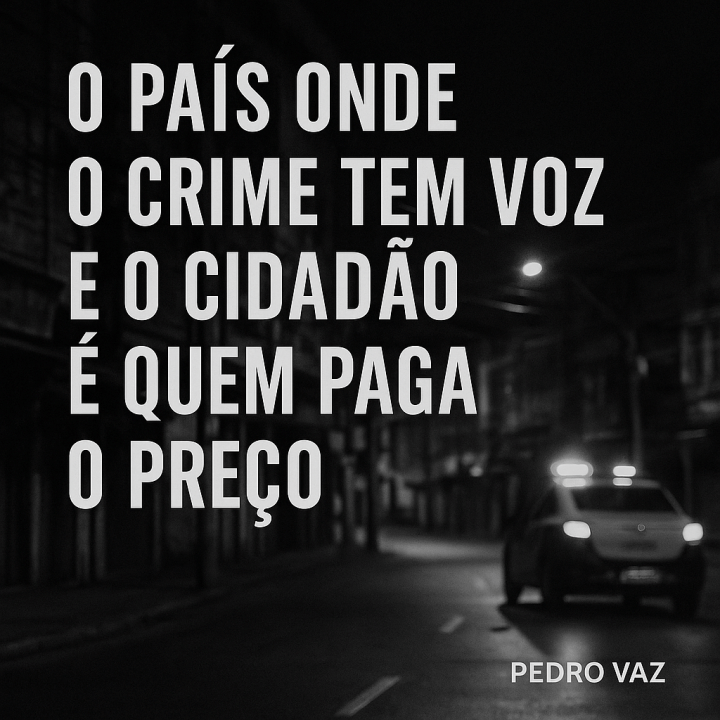Desde sempre tive como verdadeira a ideia de que um dos pilares centrais da democracia é o respeito institucional entre os poderes e as autarquias. Sem isso, não há respeito mínimo, não há segurança jurídica e, muito menos, democracia.
O que vivemos hoje se assemelha a uma democracia de fachada, com práticas cada vez mais autoritárias. Basta observar o noticiário: manchetes que alternam entre o “número de presos em suposta trama golpista” e ministro do STF batendo boca com delegada em investigação bancária. O espetáculo substituiu o institucional. O ruído tomou o lugar da sobriedade.
Enquanto isso, a atenção do governo ao seu próprio povo — se é que ainda se trata de prioridade — parece inexistente. A proposta de o Brasil ceder à China a cota de carne de países que não conseguirem cumpri-la é emblemática. Revela muito mais do que uma política comercial: revela desprezo estratégico.
Ao invés de exportar menos, valorizar o produto e lucrar mais, como fazem países maduros, opta-se por inundar o mercado externo para manter margens artificiais. Tudo isso enquanto o preço da carne continua distante do prato do brasileiro médio. Afinal, alimentar o povo nunca foi prioridade quando há um seleto grupo disposto a capturar os ganhos da democracia para agir em causa própria.
O que une quase tudo o que há de errado é a propaganda institucional positiva. A violência cresce, mas o Réveillon é “o maior do mundo”. Talvez também seja um dos menos seguros. A criminalidade “cai” enquanto cresce a frota de veículos blindados — não por mérito do Estado, mas por falência dele. O pobre, por sua vez, segue lutando para pegar um ônibus com ar-condicionado inexistente, enquanto a culpa nunca é do cartel que sustenta a concessão, mas sempre da empresa multada — e jamais substituída.
É curioso, para não dizer perverso, ver empresa pública de transporte patrocinando eventos culturais, como se essa fosse sua vocação. Estamos na contramão da Europa e de países das Américas que postergaram subsídios a veículos elétricospor razões fiscais e estruturais. Aqui, incentiva-se praticamente uma única fabricante — que, por coincidência conveniente, abriga ex-político em seu conselho.
Esse Brasil do faz-de-conta, que simula evolução enquanto distribui privilégios, produz uma sequência interminável de injustiças contra quem quer apenas trabalhar, produzir e viver sem depender da política ou do lobby.
Talvez seja mesmo mais fácil aumentar o orçamento das empresas de cenografia. Transformar a existência do povo em uma sucessão de eventos: Ano Novo, Carnaval, “Todo Mundo no Rio”, carnaval fora de época e afins. Festa como política pública. Espetáculo como anestesia social.
Até quando?