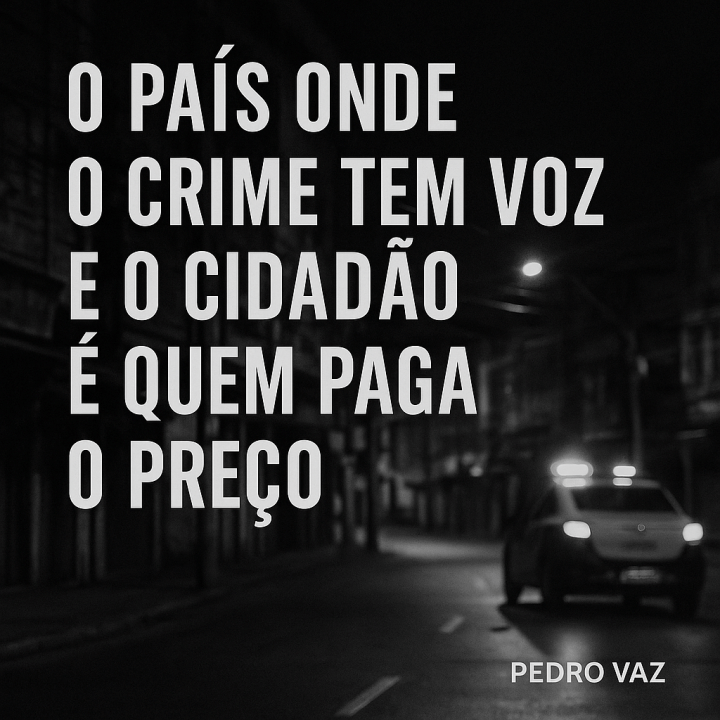Gostaria de dizer que sim. No entanto, penso que não.
Em retrospectiva, apresentei-me à sociedade como candidato em 2010 com o propósito de fazer diferente. A chamada nova forma de fazer política, por óbvio, naufragou. Seus pilares não se sustentavam na troca de interesses e favores — pelo contrário — e talvez aí residisse sua maior fragilidade diante do sistema.
Naquele momento, opus-me ao processo de alfabetização conduzido pelo Estado do Rio de Janeiro, chamando atenção para deficiências estruturais que atravessavam toda a formação educacional: da pré-escola ao ensino médio e universitário. Anos depois, aquela percepção inicial não apenas persiste como se agravou. O aluno que ingressa no sistema permanece nele sem o desenvolvimento necessário para realizar a travessia rumo a uma condição de vida melhor. O ensino médio — que considero essencial para qualquer futuro, seja na produção ou na administração — foi deixado para trás, vítima de uma política castradora que ainda insiste em sobreviver.
Também percebi, cedo, que a saúde estava doente. Só então me dei conta do privilégio que sempre tive ao contar com água tratada e esgoto encanado. Hoje, a falta de investimento é tamanha que o cheiro de esgoto se faz presente nas ruas, e temo que uma parcela significativa da população ainda conviva com doenças diretamente ligadas à ausência de saneamento básico. Se o Estado avocou para si a responsabilidade pela saúde, isso deveria ser inegociável. Não foi. A iniciativa privada, por sua vez, transformou os poucos que podem pagar em reféns de uma lógica que faz tudo pelo lucro — exceto cuidar da saúde.
Agora, a poucos dias de completar cinquenta anos, faço uma pergunta inevitável: o que será de mim quando idoso? O que fará o governo, em qualquer de suas esferas, para amparar quem envelhece? Absolutamente nada. Todos nós precisaremos de auxílio nas relações de trabalho e de convívio social. Em troca, parece que receberemos apenas o descarte motivado pela idade. A experiência acumulada não é tratada como ativo nacional, mas como contingência incômoda.
Desde que deixou de ser capital da República, o Rio de Janeiro parece viver uma permanente dor de cotovelo. Apesar da abundância de equipamentos culturais — muitos deles também presentes em cidades próximas, como Petrópolis e Niterói — sua utilização para a difusão da cultura é aquém do possível e do necessário. Optou-se por viver do turismo, dos shows e das sensações, em vez de promover o acesso à cultura como política pública. Não me recordo da última vez em que o poder público incentivou seriamente o uso de bibliotecas. Em contrapartida, não faltam ações de marketing para atrair turistas ou discursos do “nunca antes” para normalizar enchentes, acidentes, roubos e infortúnios.
Apesar de todo esforço, fiquei para trás. Muitos não compreenderam — ou não quiseram compreender — que disputar uma eleição exige, inevitavelmente, um passeio pelo chiqueiro que se tornaram partidos e práticas políticas. Lidar com o peso das escolhas erradas e dos erros de quem domina o sistema é um passo doloroso, porém real e necessário.
Não por acaso, candidatei-me em oposição ao governo que aí está, ainda que tenha sido utilizado oportunamente por circunstâncias alheias à coerência política. A janela de oportunidade surgiu, e nela segui acreditando que, para mudar, era preciso votar.
Ainda é. Não há como falar em redemocratização diante de tamanha abstenção e do crescimento de votos brancos e nulos. Parece que, enfim, o medo venceu a esperança. Muitos acreditam que votar não adianta, que tudo de ruim persistirá independentemente do resultado eleitoral. O mal triunfa porque aqueles que recebem alguma contrapartida do governo estão confortáveis com isso — e, por isso mesmo, lutarão para manter o estado das coisas.
A visão permanece a mesma. O que evoluiu foi a percepção da degradação dos entes públicos, reflexo direto de seus próprios atos. O deputado hoje é uma figura apagada. Sua representatividade diminuiu na mesma proporção em que o processo eleitoral se cristalizou. A República conserva traços de feudo e assistencialismo tão arraigados que impedem qualquer renovação real.
Por isso — e por tantos outros motivos — venho, há muito tempo, questionando se vivemos de fato uma democracia ou apenas sua fachada. Se a institucionalização das relações políticas entre parlamentares não consolidou uma espécie de ditadura democrática, impermeável ao acesso e à mudança. Enfrentar esse sistema parece uma sentença de morte; ser julgado por ele, uma pré-condenação.
O que não havia antes, e hoje encaro com lágrimas e pranto, é a fragilidade do Poder Judiciário. Um Judiciário que age por provocação da imprensa, pela comoção social, e que custa caro — caro demais. Ao longo de mais de vinte anos de formação e exercício profissional, testemunhei o abandono da literatura clássica do direito em favor de reformas que não abreviaram um único dia de julgamento. Apenas deram nome ao ministro cuja regra mudou. Vieram os cursos, os simpósios, os títulos — e o vazio.
Minha visão não mudou. O que mudou foi a experiência — e a percepção amarga que eu, assim como qualquer cidadão atento, carrego ao acompanhar o desdobramento de mais um dia da política nesta cidade.
Sua visão política mudou ao longo do tempo?