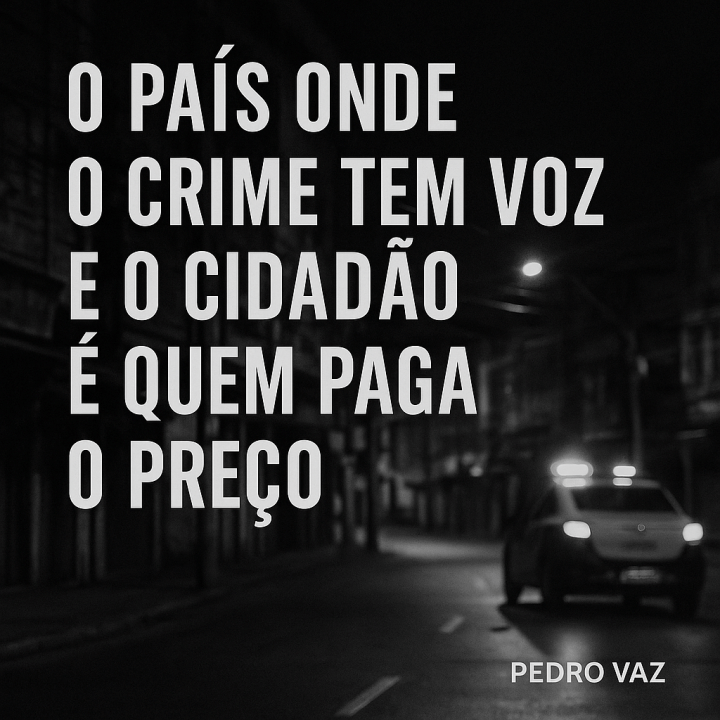No Rio de Janeiro, há algum tempo, tenho notado que conhecer alguém vale mais do que ser alguém.
Esse jeito carioca de ser parece ter sido exportado do Rio de Janeiro para o mundo.
Ser competente, preparado, educado ou íntegro, para quem se espelha no show off, pouco importa. O que vale é o acesso, o sobrenome, o contato certo, o lugar à mesa.
É assim que uma facção constrói e exerce poder por aqui — não pela excelência, mas pela proximidade. Não pela elegância, mas pela vulgaridade. Não pela discrição, mas pela ostentação sem educação.
O enriquecimento desses mal-educados e pouco instruídos passou a ser tratado como algo normal. Não é. Nunca foi.
Não é de hoje que observo, lentamente, a perda de referências. Os símbolos nacionais já não nos representam há muito tempo. Políticos, nem pensar. Nem o futebol se salva.
O mais deprimente, porém, não é o enriquecimento em si — é o que ele não trouxe junto.
A julgar pelos novos ricos cariocas, não vieram com cultura, modos ou conhecimento. O dinheiro não veio acompanhado de aperfeiçoamento, mas de ostentação. Não produziu civilidade, apenas barulho. Não gerou responsabilidade, apenas exibicionismo.
Forma-se, então, um jogo de poder raso e cansativo. Um teatro permanente de carros, relógios caros, vozes altas, roupas chamativas e a necessidade constante de ser visto, reconhecido, temido. Um poder que não se sustenta por conteúdo, apenas por presença.
Quando o costume de casa vai à praça, o retrato fica claro: não houve educação antes do dinheiro. Não houve construção antes da conquista. Houve apenas acesso.
Talvez por isso esses idiotas confundam espaços públicos com territórios privados. Talvez por isso tratem restaurantes como palcos, pessoas como figurantes e regras como sugestões. Talvez por isso precisem reafirmar o tempo todo quem conhecem, onde entram, com quem falam.
No fundo, não se trata de riqueza.
Trata-se de vazio.
E vazio faz barulho.
Muito barulho!!!!!